As revoltas de 1848 só podem ser entendidas pelo historiador se analisadas juntas com as de 1830 e com todo o contexto histórico da Europa nas primeiras décadas do século XIX. Durante o correr do tempo do novo século, a indústria se expandiu, criando uma larga classe operária com nenhuma representação política e imersa em uma miséria social retratada por Victor Hugo em Os Miseráveis. A crescente modernização da economia e as mudanças sócias já não podiam sustentar modelos políticos autocráticos. A situação piorou quando o crescente proletariado se viu imerso em um cenário de crise salarial e crise na produção agrícola, uma mistura explosiva. O suficiente para deflagrar revoltas populares que foram durante reprimidas.
Essas revoltas foram ganhando ares de revolução, cujo berço foi o território francês, sobretudo Paris; ela se espalhou com uma dimensão espantosa, com larga amplitude e alta velocidade, como fogo de palha, ao longo da Europa Central e Europa Oriental. França, Alemanha, Áustria, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Iugoslávia, Hungria, partes da Polônia, Romênia, Bélgica, Suíça e Dinamarca , todos estes países assistiram, de uma forma ou de outra, uma manifestação do que foi chamado de Primavera dos Povos, um movimento que carregava consigo as idéias de sufrágio universal e da abolição da escravatura.
Compreender um cenário de tamanha confusão, com tantas sublevações e atos de contra-revolução não é uma tarefa fácil. O cientista humano, de modo geral, pode optar por vários caminhos e ferramentas diferentes para analisar esses fenômenos. Um destes caminhos é a análise de textos literários de romancistas/poetas que conseguiram captar em suas obras o espírito que circulava entre as classes sociais que lutavam contra a monarquia. O objetivo deste relatório é expor as idéias e análises de Walter Benjamin, Michel Winock e Dolf Oehler acerca do cenário político, e, mais especificamente da representação das revoltas de 1848.
Em As Vozes da Liberdade, Winock estuda, em um primeiro momento, as turbulências no cenário político baseando-se em uma documentação composta basicamente de correspondências trocadas entre figuras importantes do período. Sendo o texto bem documentado, ele também é bem expressivo ao conseguir narrar e explicar o jogo político que começa com a confusão arruaceira de fevereiro, passa pela República tumultuada e chega a eleição legítima de Napoleão III, que acaba por desferir um golpe de Estado e instalar uma ditadura despótica sustentada pela censura e violência. Mas a parte que mais nos interessa neste ponto não é a constituição política da República, a posição dos socialistas e suas idéias, nem tão pouco a confusão que deu espaço a Luís Napoleão Bonaparte para criar em torno de si a idéia de ordem. Não, o que realmente nos interessa são as conclusões que podem ser tiradas através da análise de dois grandes autores deste período: Flaubert e Baudelaire.
Ao contrário do jovem Baudelaire, Flaubert era dotado de grande prestígio social (talvez esta seja a justificativa primordial para explicar a sua relativa baixa censura) e é o autor de duas obras que podem ser analisadas sob a óptica das idéias que circundam 1848: Madame Bovary e Educação Sentimental.
O primeiro romance tem uma importância proporcional à árdua tarefa que fora para Flaubert escrevê-lo. Publicado em periódicos, a história de Mme. Bovary sofreu censura, mas mesmo assim causou polêmica e, quando publicado em versão integral, o estrago fora muito maior. Acusado de atacar a moral e os bons costumes (o que rendeu a Flaubert críticas positivas, negativas e alguns processos judiciais), Madame Bovary retratava o universo em que estava inserida a mulher do início do século XIX. Presa a uma vida fugaz, sem representação política e sem voz, a mulher vivia em uma verdadeira prisão quando estava no seio do lar paterno, e quando esta mesma mulher via no casamento uma oportunidade de escapar de sua situação deplorável, não encontrava nada além de uma armadilha e uma decepção: outra prisão, na instituição do matrimônio.
Não é à toa que Hobsbawm diz que a maior revolução do século XX fora a revolução feminista . Poucas mulheres que vivem hoje conhecem o abismo que separa a sua situação atual com a situação de suas avós e bisavós. No século XIX a coisa era pior ainda. O casamento era sinônimo de infelicidade, de uma vida limitada, sobretudo nas pequenas aldeias, onde a situação da mulher era mais deplorável.
George Sand, mulher militante socialista, declarava abertamente que a mulher não tinha direito a representação política naquele momento, nem mesmo poderia, uma vez que a mulher não estava apta ao exercício da política, mas mesmo assim. Sand afirmava que o futuro da mulher como ser político existia, mas era distante e estava ligado a uma primeira necessidade de igualdade de direitos civis, ou seja, ao divórcio. Apenas instituído o divórcio as mulheres poderiam ser livres para serem elas mesmas .
Mme. Bovary é a voz dessas mulheres. Mesmo com o final trágico de seu suicídio e sua exploração sexual sistematizada por parceiros que não lhe mostravam qualquer respeito, Mme. Bovary comete adultério e age de modo desenfreado como uma forma de ter voz e lutar contra a sua posição reprimida. De um outro lado, Baudelaire viu na lésbica a elevação da mulher. “A lésbica é a heroína da modernidade”. O século XIX inseriu a mulher no processo de produção da maneira mais primitiva: ela foi trabalhar nas fábricas, fora do ambiente doméstico ao qual sua imagem sempre esteve ligada. Assim, com o passar do tempo, traços masculinos foram aparecendo nas descrições femininas. Baudelaire não deixou isso escapar e deu às lésbicas papel fundamental n’ As flores do mal. Essa temática, de certo modo erótica, do modo como foi tratada pelo poeta, de maneira prosaica, descarada, contribui para o estilo de poesia baudelairiano, como veremos mais para frente. Então, nesse questão da mulher, temos de um lado Mme. Bovary, descrita por Flaubert, representando a mulher burguesa do século XIX, presa pela sociedade; por outro lado, temos as lésbicas de Baudelaire, representando a inserção da mulher na modernidade, nas fábricas, libertando-se, de algum modo, da prisão social na qual ela vivia.
Em Terrenos Vulcânicos, Oehler traça paralelos entre Educação Sentimental e a realidade da metade do século XIX. O autor defende a idéia de que o romance possui uma série de evidências que traduzem e retratam de forma velada as diferentes faces das revoltas. A idéia é de que o protagonista do romance, Frédéric, é um representante da intelectualidade pequeno-burguesa da Revolução de 1848, assim como o seu comportamento erótico (que consiste na dúvida entre ficar com a sra. Arnoux e Rosanette) é na verdade o comportamento indeciso que a intelligentsia de sua classe possui, sendo que esses burgueses optam pela República como algo idealizado, uma República que se diz honrada (como a sra. Arnoux) mas não hesita em se prostituir na primeira oportunidade (como Rosanette).
Oehler também se utiliza das idéias sexuais freudianas para explicar o comportamento erótico de Frédéric e sua relação com o comportamento político da burguesia. Talvez para fugir da censura, talvez por simples genialidade, Flaubert elabora um texto que tem representação de difícil interpretação da sociedade revolucionária, com o contraponto entre a história do indivíduo da burguesia e a história do mundo.
Por sua vez, o outro representante da art-névrose, Baudelaire, é um poeta jovem que foi muito mais atacado pelas engrenagens judiciais do Estado, tanto pelo conteúdo anti-religioso como anti-moral de seus poemas de Lês fleurs du mal. Benjamin, ao analisar o poema A une Passante, destaca o caráter da multidão, e o papel do erotismo na cidade grande, sendo que em sua análise é importante observarmos o fator inédito e revolucionário do fenômeno da grande cidade. Contudo, segundo Oehler, Benjamin não é atento ao fato de que a multidão pode ser a alegoria para o povo insurgente de 1848.
A crítica de Oehler pode ter fundamento, mas achamos que Benjamin estava mais preocupado em ver a multidão de outra forma, uma forma que não fosse puramente revolucionária. Seu estudo sobre a flânerie nos mostra o papel fundamental dessa grande massa que é a multidão. Ela é importante para os autores, sobretudo para Baudelaire. “Entre as várias coisas que Baudelaire censura à detestada Bruxelas, uma lhe traz rancor especial: ‘Nenhuma vitrine. A flânerie, que é amada pelos povos dotados de fantasia, não é possível em Bruxelas. Não há nada a ver, e as ruas são inutilizáveis’. Baudelaire amava a solidão, mas a queria na multidão”. E quando o Estado de Napoleão III retoma a iniciativa, já existente, de numerar as casas e de mapear as ruas, (uma iniciativa de controlar o indivíduo na multidão) o poeta se desespera, pois não tinha mais para onde fugir. Era precioso, portanto, ficar vagueando se não seus credores o encontravam. É o estereotipo que Poe traçou, em seus romances, para o flâneur: “alguém que não se sente seguro em sua própria sociedade. Por isso busca a multidão”.
Nessa multidão da Paris do século XIX, além da flânerie, outros tipos podem ser encontrados. O boêmio é um dos mais comuns e entra no campo dos conspiradores: aquelas pessoas que sentam no bar e ficam bebendo e pensando numa maneira de derrubarem o sistema. Outro tipo é o trapeiro, que “não pode ser incluído na boêmia. Mas, desde o literato até o conspirador profissional, cada um que pertencesse à boêmia podia reencontrar no trapeiro um pedaço de si mesmo”. Baudelaire deixa claro, em um dos poemas de As flores do mal, que se vê como um trapeiro:
“O vinho dos trapeiros
Muitas vezes, à luz de um lampião sonolento,
Do qual a chama e o vidro estalam sob o vento,
Num antigo arrebalde, informe labirinto,
Onde fervilha o povo anônimo e indistinto,
Vê-se um trapeiro cambaleante, a fronte inquieta,
Rente às paredes a esgueirar-se como um poeta,
E, alheio aos guardas e alcagüetes mais abjetos,
Abrir seu coração em gloriosos projetos.
Juramentos profere e dita leis sublimes,
Derruba os maus, perdoa as vítimas dos crimes,
E sob a azul do céu, como um dossel suspenso,
Embriaga-se na luz de seu talento imenso.”
Encontramos nesse poema algumas referências importantes. A comparação entre o trapeiro e o poeta deixa evidente a imagem que Baudelaire tinha de si. Ele era um trapeiro entre o “povo anônimo e indistinto”. E essa era a condição para que fosse um poeta, era necessário ser trapeiro, não ser reconhecido no meio do povo, para “abrir seu coração em gloriosos projetos” e embriagar-se “na luz de seu talento imenso”.
Foi esse o espírito da modernidade que Baudelaire captou em seus poemas. As multidões disformes, com seus membros anônimos. O poeta, para ser poeta, teria, portanto, que ser um trapeiro, ver essa multidão como parte de si, essa multidão criada pelas fábricas, pela nova tecnologia. Mesmo o trapeiro era fruto da modernidade. Ele só existe no meio do povo disforme, alheio aos guardas. Uma modernidade que relegou o papel do herói, agora disponível para qualquer um representá-lo. Baudelaire, esse poeta que viveu desconhecido, se escondendo dos credores, resolveu interpretar o papel de herói, que no século XIX não precisa ser mais aquele homem-exemplo. Talvez a intenção de Baudelaire tenha sido, com isso, a de mostrar que qualquer um, qualquer trapeiro, pode ser o herói da modernidade. As flores do mal, a exemplo de quem foi seu autor, foi o primeiro livro “a usar na lírica palavras não só de proveniência prosaica, mas também urbana”.
Uma imagem, para Benjamin, consegue captar a essência do ser em Baudelaire; é a imagem dos navios atracados no cais: “O herói é tão forte, tão engenhoso, tão harmonioso, tão bem estruturado como esses navios. Para ele, contudo, o alto-mar acena em vão. Pois uma má estrela paira sobre sua vida. A modernidade se revela como sua fatalidade. Nela o herói não cabe; ela não tem emprego algum para esse tipo. Amarra-o para sempre a um porto seguro; abandona-o a uma eterna ociosidade”. E mais para frente, Benjamin conclui: “A modernidade heróica se revela como uma tragédia onde o papel do herói está disponível”.



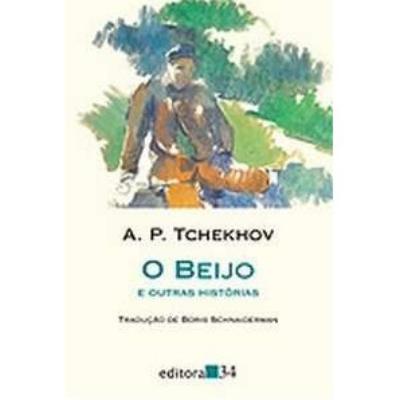 TCHEKHOV, Anton Pavlovitch. O beijo e outras histórias. São Paulo: Editora 34, 2007 Tradução: Boris Schnaiderman.
TCHEKHOV, Anton Pavlovitch. O beijo e outras histórias. São Paulo: Editora 34, 2007 Tradução: Boris Schnaiderman.
 Para ler sobre o capítulo 1
Para ler sobre o capítulo 1  Nicolau Sevcenko, em Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, procura entender a mudança entre o Império e a República através da literatura, que para ele parece um meio de luta social e contestação de algumas atitudes tomadas durante a transição. Dois escritores são privilegiados nessa análise, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Ambos usam a escrita como meio de comunicação com a população, tentando chamar a atenção de seus leitores para o que estava acontecendo durante a transição de um sistema para outro.
Nicolau Sevcenko, em Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, procura entender a mudança entre o Império e a República através da literatura, que para ele parece um meio de luta social e contestação de algumas atitudes tomadas durante a transição. Dois escritores são privilegiados nessa análise, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Ambos usam a escrita como meio de comunicação com a população, tentando chamar a atenção de seus leitores para o que estava acontecendo durante a transição de um sistema para outro.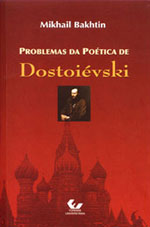 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. TOLSTÓI, Lev.
TOLSTÓI, Lev. 